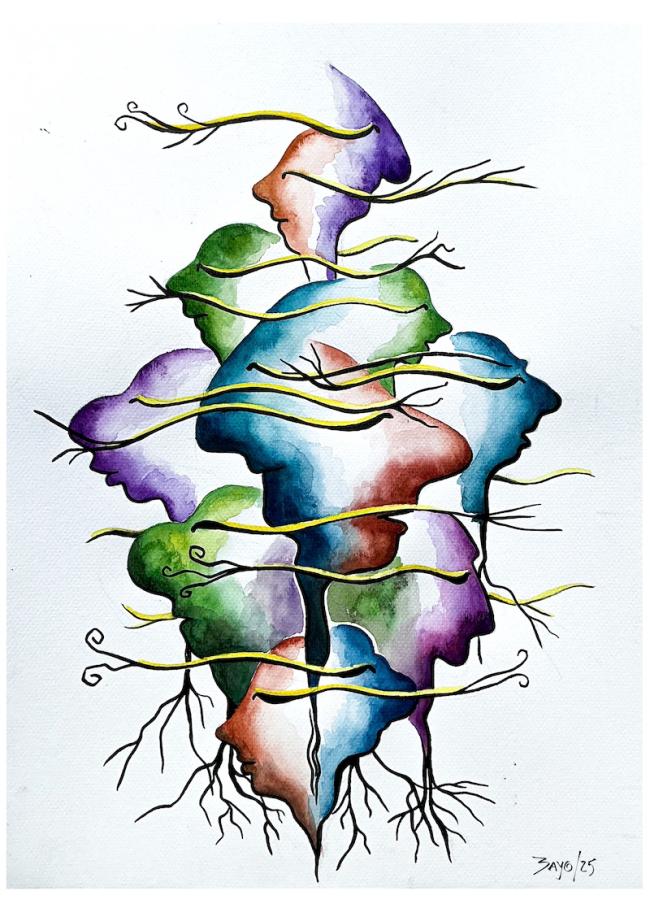
Este artigo foi publicado em inglês na edição da primavera de 2025 de nossa revista trimestral NACLA Report.
Cerca de um ano antes do início da pandemia de Covid-19, em junho de 2019 decidi me hormonizar com testosterona. Eu estava no quarto semestre da graduação em Ciências Sociais, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e meu acesso a um acompanhamento médico relativamente equilibrado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) me foi possibilitado pelas conquistas do movimento social trans de minha cidade. Com a ajuda de informações que encontrei em páginas no Facebook e no Tumblr, agendei uma consulta no ambulatório trans de minha região. A princípio, as consultas eram presenciais. Na recepção da clínica, conheci outras pessoas trans e conversávamos sobre saúde, hormônios, trabalho e faculdade.
No ano seguinte, surgiu o vírus Covid-19 e, além das preocupações instauradas pela crise sanitária global, tive outro medo: como o ambulatório funcionaria se, antes, já era precário? Nesse momento, o espaço de socialização que tínhamos juntos também se enfraqueceu. O isolamento social—algo muitas vezes imposto a pessoas transgressoras de gênero—agravou relações de moradia, e os índices de violência contra pessoas trans e travestis aumentou: a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) publicou o levantamento de que, durante o primeiro quadrimestre de 2020, o número de assassinatos contra pessoas trans e travestis no Brasil cresceu em 49 por cento em comparação com o mesmo período de 2019.
Outras instâncias de saúde também foram afetadas: segundo pesquisa realizada em 2021, publicada na Revista de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a dispensa de PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV) e PEP (Profilaxia Pós-Exposição ao HIV) pelo SUS se manteve, mas o acompanhamento médico se precarizou, ou seja, apenas a dispensa dos medicamentos estava garantida. A pandemia também intensificou transfobias nos sistemas de saúde: mulheres trans e travestis, em sua maioria profissionais do sexo, relataram enfrentar mais hostilidade em clínicas privadas, em comparação com a esfera pública. De fato, ao tentar recorrer a clínicas particulares para continuar minha terapia hormonal—já que os atendimentos no ambulatório trans passaram a ocorrer de modo esporádico durante a pandemia—, os médicos e recepcionistas me respondiam que não recebiam esse “tipo de paciente”. Chama-se negligência médica.
No ambulatório trans, aquele espaço de socialização e troca de informações construído de modo bastante intuitivo foi impossibilitado. As consultas com o endocrinologista passaram para o formato online e eram curtíssimas; a fila para atendimento psicológico aumentou exponencialmente; fiquei dois anos sem conseguir agendar consultas ginecológicas. Para darmos conta disso, as redes, movimentos e insurgências de pessoas trans anteriormente organizadas se reestruturaram, e outras foram criadas, respondendo à ausência/negligência do estado e de outras instituições durante a pandemia.
Escrevo desde uma perspectiva transmasculina e com foco particular em nossas comunidades—experiências de saúde e da pandemia que são frequentemente sub-representadas. Pretendo demonstrar como grupos trans autônomos se esforçam para formar redes de cooperação no âmbito da saúde que se baseiam em experiências históricas de ajuda mútua; que produzem e divulgam conhecimentos e práticas comunitárias de saúde vitais que nos mantêm vivos; e que cultivam modos de cuidado que sustentam as comunidades trans e nossos modos de vida.
Práticas autônomas de saúde e os tempos pandêmicos
Certa vez, em 2019, enquanto eu estava aguardando atendimento no ambulatório, um rapaz me perguntou se eu gostaria de ser adicionado ao grupo de WhatsApp de outras pessoas trans que se consultavam lá. O nome do grupo era “Transformers”. Nele, os rapazes compartilhavam dicas sobre como adquirir testosterona e em quais farmácias e postos de saúde os funcionários eram aliados. As dificuldades do isolamento emergentes durante a pandemia foram remediadas tanto por redes previamente organizadas como por outras formadas naquele período.
Em 2020, por exemplo, o acesso ao posto de saúde se tornou ainda mais hostil do que já era. Então, comecei a me autoinjetar testosterona. A decisão não foi realmente uma escolha, mas uma necessidade, e somente consegui aprender a fazê-lo conversando no Transformers, assistindo vídeos de amigos que ensinavam como abrir a ampola, sugar o hormônio com a seringa, conferir se a agulha estava encaixada, encontrar o lugar ideal para injetar etc. Na primeira vez, apliquei com ajuda de uma amiga trans e, hoje, com a ajuda de um vizinho enfermeiro aposentado.
Na pandemia, me tornei a pessoa que injetava testosterona em outros rapazes e que aprendia e ensinava sobre assepsia, higienização das seringas e ampolas, armazenamento dos hormônios, a “puxadinha” que deve ser feita no momento da aplicação para conferir se a seringa está penetrando tecido muscular ou veias sanguíneas. Também recebi e repassei indicações sobre outros cuidados do corpo. É isso que podemos chamar de bricolagem, um “faça você mesmo” baseado em ajuda mútua e redes de apoio informais que se esforçam para burlar burocracias. A bricolagem da saúde trans se faz presente em minha trajetória tanto quanto na história dos movimentos trans. Em grande parte, o fator do isolamento e do acesso ainda mais dificultado à saúde durante a Covid-19 levou as redes pré-estabelecidas a se expandir e à criação de outras.
O confinamento pandêmico fez com que pessoas trans recorressem em massa a casas de acolhimento para fugirem de violências familiares e situações de risco dentro de suas próprias moradias. Em resposta a isso, a ANTRA e a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT) publicaram o “Mapa da Solidariedade”, um documento online com as informações de contato e localização de 32 casas de acolhimento LGBT em 14 estados brasileiros e que necessitavam de doações. Nesse período, inúmeras casas de acolhimento se mobilizaram para arrecadar recursos, apoiar pessoas trans em vulnerabilidade e se proteger do adoecimento. Daí a importância de espaços compartilhados, até mesmo em tempos pandêmicos. Esses espaços historicamente se voltam a questões de saúde.
O Palácio das Princesas, por exemplo, fundado na década de 1980 em São Paulo pela ativista travesti pernambucana Brenda Lee, conhecida como o anjo da guarda das travestis, é uma casa de acolhimento dedicada a receber travestis e transexuais com HIV/AIDS. O Palácio sobrevivia com financiamentos comunitários e doações de outras travestis. Nas palavras da professora e poeta trans abigail Campos Leal, “Brenda conseguiu, depois de muito esforço, comprar uma casa, transformando-a de imediato em um espaço de acolhida… de moradia coletiva para corpos dissidentes de gênero e sexualidade”. Em uma época em que o acesso de pessoas trans à saúde era ainda mais burocratizado e embarreirado do que hoje, a militância de Brenda buscava garantir condições dignas de vida e saúde para as pessoas que necessitavam. A ajuda mútua e as práticas de saúde autônomas desenvolvidas no Palácio das Princesas também criaram fortes redes relacionais que sustentaram esta comunidade face ao abandono estatal no auge da crise do HIV/AIDS.
Se, na década de 1980, o Palácio das Princesas acolheu travestis e transexuais a despeito da negligência governamental, durante a pandemia da Covid-19 foram aprofundadas inúmeras práticas de saúde autônomas, ao passo que outras práticas surgiram e se organizaram fundamentalmente por cooperação e solidariedade, de forma descentralizada e autogestionária. Como minha investigação sugere, a prática de apoio mútuo histórica e já existente nas comunidades trans estrutura suas práticas de saúde durante e depois da pandemia.
Os tempos pandêmicos evidenciaram e amplificaram formas de opressão já vigentes. Como consta nos dossiês da ANTRA, nas pesquisas do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades (IBRAT) e em minha própria experiência, a situação pandêmica evidenciou a negligência estatal já em curso em relação às nossas vidas; em contrapartida, também evidenciou a força organizacional de grupos e coletivos trans autônomos. Se, em 2019, os rapazes do ambulatório me passaram contatos de outros transmasculinos que vendiam testosterona e forneciam receitas médicas —considerando que o acesso a esses elementos era muitas vezes dificultado pelo próprio processo ambulatorial—, durante a pandemia trocávamos informações sobre as consultas, pedíamos receitas uns aos outros, indicávamos os serviços de médicos acolhedores. Em minha experiência no Rio de Janeiro, o fornecimento de testosterona sofreu um baque e esteve em falta em muitas farmácias, de modo que também compartilhávamos informações sobre quais farmácias ainda ofereciam os hormônios, ou a quais farmácias poderíamos recorrer para solicitar a entrega de testosterona sem sofrermos transfobia.
Essas trocas seguem a mesma linha do que relataram o ativista trans João Nery e Eduardo Maranhão Filho sobre a busca por informações de retificação de nome e gênero como outro exemplo da centralidade do conhecimento comunitário para as vidas transmasculinas. Num artigo de 2013 sobre como homens trans usavam o Facebook e outros fóruns digitais, eles escreveram: “Alguns buscam informações no Facebook sobre como adequarem o nome e o sexo em seus documentos, como Mathias: ‘Prezados, algum de vocês é (ou conhece) um homem trans que conseguiu alterar o nome e o sexo em decisão de 1º grau em Santa Catarina? Por favor, entrem em contato comigo. Obrigado’”.
Estas práticas continuam a ser importantes no presente, uma década depois. Informações como essas não me foram passadas pelas equipes do ambulatório trans e de clínicas particulares—que inclusive admitiram não ter conhecimento detalhado sobre as consequências da hormonização e se referiam às modificações corporais como “sequelas”. Somente o trânsito de informações por meio de redes de apoio independentes me permitiu ter algum suporte para acessar dispositivos de saúde e manejar minha própria saúde. A solidariedade trans se enquadra no entendimento do pesquisador trans Dean Spade sobre ajuda mútua, como práticas que visam a “construção de novas relações sociais com melhor capacidade de sobrevivência”. Essa forma de organização se baseia em iniciativas de compartilhamento de informações, aplicação de hormônios, trânsito de substâncias e outros modos de acolhimento, os quais, durante a pandemia, assim como ocorreu na década de 1980, enfrentaram a negligência institucional.

Nossas práticas são mais do que somente modos de tapar os buracos do estado e de se defender de violências institucionais: constituem outras formas de se relacionar, se organizar e se situar no mundo. Além disso, devido à sua trajetória histórica, essas práticas já existentes também informaram a organização e as práticas de cuidado durante a pandemia, fortalecendo as redes comunitárias existentes e forjando novas. Como não podíamos mais nos encontrar no espaço físico do ambulatório trans, fortalecemos muito mais nossas redes em âmbito virtual ou em iniciativas de pouco contato pessoal, como pela distribuição de cestas básicas em centros de cidadania LGBT.
No contexto brasileiro, essas práticas autônomas podem ser encontradas tanto de modo informal como em afrontas diretas a um sistema de saúde cisnormativo e institucionalizado—seja “integral” ou “especializado” também. Por exemplo, desde o início da década de 2010, a antiga Associação Brasileira de Homens Trans (ABHT) organizava informações em seu website sobre o acesso de homens trans e transmasculinos à saúde. Desde dicas de início de transição até indicações de médicos, serviços oferecidos pelo SUS e como lidar com situações de transfobia, a ABHT se esforçava para tornar públicos, de maneira detalhada e autoexplicativa, os conhecimentos que nossa própria população acumulou e para difundi-los a um público trans (e cis) mais amplo. Apesar de a ABHT ter se desarticulado em 2013, essa cultura de apoio mútuo transmasculino permanece viva, especialmente no IBRAT, e foi particularmente importante durante a pandemia.
Tratando de um contexto pandêmico e pós-pandemia no Brasil, percebo que as práticas que João Nery e Eduardo Maranhão Filho identificaram em 2010-2013 se mantiveram pela organização autônoma de cartilhas de saúde e a formação de redes de contato, com listas de profissionais, clínicas e consultórios. Mas, para além disso, essas redes trans se organizaram para mapear, ainda de modo autônomo, as demandas, necessidades e vulnerabilidades de nossa própria população. Segundo o dossiê “A dor e a delícia das transmasculinidades no Brasil” publicado em 2021, em 2020 cerca de 60,3 por cento de pessoas transmasculinas não conseguiram receber o auxílio governamental ainda que estivessem aptas a recebê-lo, e a ANTRA e o IBTE informaram um índice de 70 por cento para as mulheres trans e travestis no mesmo ano. O relatório de 2022 do Observatório Anderson Herzer atesta que 70 por cento dos transmasculinos perceberam uma intensificação das violências que sofriam durante o período pandêmico. Essas são pesquisas organizadas por pessoas trans sobre a população trans e travesti no Brasil.
A situação de insegurança alimentar dentre pessoas trans na pandemia—com um percentual de 68,8 por cento de acordo com a pesquisa de Sávio Marcelino Gomes et al. publicada na revista PloS One em 2023—teve como resposta iniciativas de redistribuição financeira. A ação social Transvest, por exemplo, em Belo Horizonte (MG), organizou a Renda Mínima Trans, que buscava distribuir auxílio financeiro, itens de higiene e cestas básicas para travestis na cidade por meio de financiamento coletivo. As mobilizações emergentes nesse período se concentraram não apenas em suprir as lacunas do estado, mas em fortalecer nossas próprias redes de apoio, que se tornaram cada vez mais necessárias.
Apoio mútuo e conhecimento livre
Diante da negligência do estado em reconhecer as demandas de nossa população antes, durante e depois da pandemia, a ANTRA e o IBTE se empenharam nessa função de sistematização e publicização de relatórios e estatísticas que detalham as condições da vida. Estas estatísticas foram vitais para demonstrar os impactos que a política governamental poderia ter nas comunidades trans durante a pandemia, especialmente em relação à saúde pública. As estatísticas também foram possíveis, em parte, devido às práticas quantitativas existentes e ao reconhecimento das necessidades de organizações comunitárias, demonstrando como estas práticas de relatório e mapeamento poderiam ser alargadas e expandidas durante a pandemia para satisfazer as necessidades da comunidade.
Por exemplo, a ANTRA realiza, desde 2017, relatórios de assassinatos e violências que acometem a população trans, inclusive no âmbito da saúde. Contudo, a partir da pandemia Covid-19, a realização desses relatórios se expandiu para outros eixos: em março de 2020, a ANTRA publicou a cartilha “Dicas para travestis e mulheres trans profissionais do sexo em tempos de Covid-19”, explicando como pessoas trans profissionais do sexo poderiam se beneficiar do auxílio emergencial governamental que não estava sendo estendida a elas. Em agosto de 2020, a ANTRA publicou outra cartilha também relacionada ao autocuidado para pessoas trans e travestis, “Dicas de cuidados na hora de acuendar a neca”.
Esta cultura de práticas de saúde autônomas durante a pandemia também se estendeu a formas de autocuidado, como o exercício físico e o uso seguro de binder e fita microporosa para pessoas transmasculinas. Essas informações sobre o uso seguro de binder e fita foram particularmente vitais durante a pandemia em virtude de sequelas respiratórias da Covid-19. O núcleo paulistano do IBRAT, em parceria com o projeto Trans No Corre, que incentiva pessoas trans a praticar corrida pela cidade de São Paulo, fez algo semelhante: organizou a cartilha “Tecnologias Transmasculinas: Uso de binder, como reduzir danos”. A cartilha ilustra, com imagens, como colocar o binder sem machucar a pele, reduzindo os danos à coluna e ao diafragma. Isto foi muito importante durante os confinamentos da pandemia, quando não podíamos nos encontrar pessoalmente para compartilhar sobre nossas experiências corporais.
O confinamento pandêmico, juntamente com o agravamento de violências institucionais pré-estabelecidas, também nos impeliu a uma organização forte e a nível nacional. Em 27 de janeiro de 2022, por exemplo, em um período ainda não totalmente pós-pandêmico, a Revista Estudos Transviades organizou uma lista virtual com contatos de profissionais de saúde—a princípio, médicos e psicólogos e, posteriormente, a lista se expandiu para todas as possíveis categorias que trabalham com saúde—que sejam acolhedores com pessoas trans. Atualmente, há 17 estados brasileiros abarcados pela lista, contando com mais de 150 profissionais. A divulgação da lista ocorreu inicialmente pelo Instagram e o documento pode ser acessado pelo site da revista. Uma iniciativa semelhante é a Indique1P, um registro de indicações médicas de pessoas trans para pessoas trans iniciada em março de 2023, tendo recebido indicações de sete especialidades médicas em 10 estados brasileiros.
Em 2023 o IBRAT publicou o “Mapeamento de Saúde das Transmasculinidades Vivendo no Brasil”, em parceria com a Red Centroamericana del Caribe de Hombres Trans+ (REDCAHT+) e Revista Estudos Transviades. Essa pesquisa, realizada de modo independente por pesquisadores trans voluntários, oferece os primeiros dados sobre transmasculinidades e saúde no país. A negligência governamental em relação às vidas trans se exprimiu nos registros de óbito por Covid-19, na medida em que não houve nenhuma forma de mapear ou dimensionar como a pandemia afetou as vidas de pessoas trans, considerando os contextos de vulnerabilidade social. A pesquisa está disponível em português e espanhol, no site do IBRAT.
Algo já destacado nos dossiês da ANTRA e IBTE e do IBRAT sobre a pandemia é que o confinamento e a reclusão são situações recorrentes nas vidas de pessoas trans, assemelhando-se a uma fuga—para não sofrermos determinadas violências, nos isolamos, e o meio virtual se configura como um campo estratégico para trocarmos informações fundamentais. Como vimos, no período crítico da pandemia, essa estratégia se amplificou, de modo que inúmeras cartilhas de saúde, manuais, instruções e listas passaram a ser organizadas e difundidas livremente. No caso das transmasculinidades, as conectividades formadas durante a pandemia em meios virtuais foram fundamentais para suprir a carência de dados e para difundir materiais informativos sobre saúde. Em outras palavras, percebo que os impactos da pandemia nos modos de organização da comunidade trans influenciaram como hoje, pós-pandemia, nos organizamos. O referido mapeamento de saúde das transmasculinidades, realizado após a pandemia, se inspirou nos relatórios anteriores que somente começaram a ser produzidos durante a pandemia.
Ainda em 2023, a Revista Brasileira de Estudos da Homocultura e a Revista Estudos Transviades publicaram o mapeamento “Gravidez, aborto e parentalidade nas transmasculinidades: um estudo de caso das políticas, práticas e experiências discursivas”, realizado também por pesquisadores trans voluntários. A realização desse mapeamento foi motivada por um repetitivo apagamento das transmasculinidades nas discussões sobre saúde e justiça reprodutiva. Um exemplo desse cenário é a frase “É pela vida das mulheres!”, entoada frequentemente em protestos pela descriminalização do aborto no Brasil, e que não abrange as transmasculinidades.
Por enfrentarmos uma carência de dados e de dispositivos de saúde gestacional trans, o IBRAT divulga e produz materiais sobre saúde gestacional e pré-natal para pessoas transmasculinas, saúde menstrual, cuidados com hormonização e com o período pós-operatório da mamoplastia masculinizadora. Essas pesquisas servem como materiais importantes para profissionais de saúde compreenderem as demandas específicas da população transmasculina e não-binária e, com isso, adequarem seus atendimentos às nossas necessidades. Também servem para que nós tenhamos noção de nossas necessidades coletivas.
A bricolagem da saúde trans—as práticas existentes de ajuda mútua e conhecimentos de saúde autônomos—combate o abandono persistente e profundo do estado, assim como sua transfobia estrutural. Essa negligência recebe como resposta as defesas por autodeterminação; o manejo cuidadoso (e muitas vezes coletivo) das chamadas “tecnologias de gênero”; a elaboração de cartilhas de saúde; a divulgação de instruções sobre cuidados corporais, cirúrgicos e psíquicos; e a formação de laços com base em apoio mútuo, sem mediação institucional. Os impactos dessas relações sobre a saúde trans têm como exemplo, além dos vários já citados, o meu próprio corpo, que somente se manteve vivo em virtude das redes estabelecidas com outras coletividades. Na noção de ajuda mútua, o âmbito da saúde trans antes, durante e depois da pandemia demonstra, sem sombra de dúvidas, sua tendência de apoio mútuo.
Cello Latini Pfeil é colaborador do Preparatório Transviades, um curso preparatório autogestionado para pessoas trans que estão ingressando na pós-graduação, e doutorando em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

